Hilda Hilst é uma poeta complexa, que escreve poesia em prosa, dramaturgia poética, poesia musicada, e poesia apenas. Como uma cotovia de Bachelard, sua escrita é uma poesia pura, com seu tamanho pequenino e suas cores discretas, camuflando um canto que em devir se torna voo: “Como uma nuvem de fogo, ela dá asas à profundidade azul. Para a cotovia (…) a canção é voo e o voo é canção, ela é uma flecha aguda que corre na esfera de prata”.
Por Marina Costin Fuser*
Publicado 07/03/2019 21:34 | Editado 13/12/2019 03:29
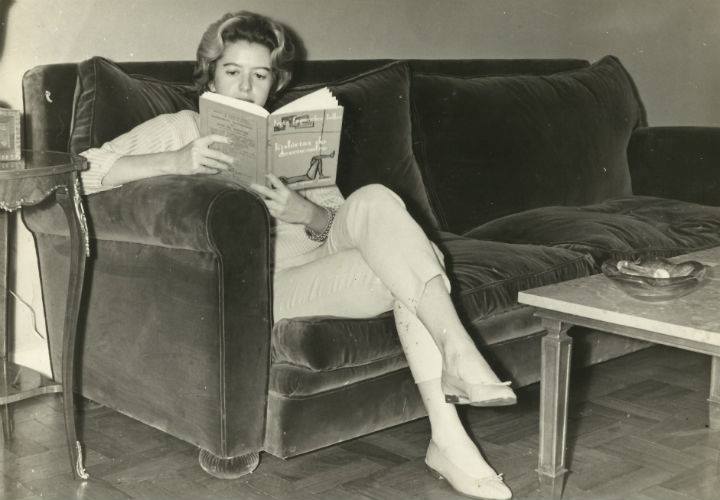
A indefinição cromática e as metamorfoses múltiplas que atravessam seus diferentes registros fazem com que transite por todas as cores e formas. Como a cotovia, Hilst se imiscui com a “poesia pura”, que transborda a métrica da representação e se dissolve em fluxos.
Seu recolhimento na Casa do Sol, inspirada por um mergulho introspectivo e místico em Nikos Kazantzakis, tem a ver com um recolhimento afetivo – e ao mesmo tempo um respiro frente ao Estado de exceção que veio à baila a partir de 1968, apenas dois anos depois de sua mudança de ares. O Absurdo de seu tempo fica bastante explícito em seu teatro do Absurdo, que bebe de Samuel Beckett com um charme brasileiro.
A Casa do Sol aproxima as alegorias políticas dos elementos da natureza, quando homens se confundem com lobos e os lobos habitam os imaginários de seus personagens fugidios, que não se deixam captar com facilidade. Eis a figuração potente de uma revolta, uivos de uma recusa.
Dos homens de seu tempo, Mario Schenberg está entre seus protégés na Casa do Sol. Ele é perseguido pelos militares por ser identificado como elemento subversivo. Eram os anos de chumbo. Hilst não foi alheia aos acontecimentos de seu tempo. É pelo teatro que ela articule sua revolta, ainda que de forma indireta, através de alegorias cênicas, que ainda estão para ser exploradas em palco.
Seu teatro ainda não foi descoberto por diretores ousados, que consigam ser inventivos o bastante para trabalhar com as alegorias abstratas de uma poeta que está a frente de seu tempo, quando o teatro político era fortemente inspirado na estrutura das épicas de Brecht. Hilst faz um teatro aberto, atravessado por uma lírica que se multiplica em devires, polifonias e uma semiologia sofisticada, cuja compreensão se dá mais por um convite ao espectador a ligar os pontinhos do que pela representação direta, sem ambiguidade.
É através da ambiguidade que leio a capilaridade política de Hilst. Se o corpo em sua obra é atravessado por fluxos de desejo que transbordam a superfície da pele, que se verte ao avesso em intensidades e trepidações sísmicas, é difícil capturar esse corpo em categorias identitárias. Uma guinada intimista no teatro nos permite a pensar os devires que atravessam os corpos imaginados por Hilst sem passar por cima da ambiguidade inerente ao humano e ao antropoceno que vai além do humano.
Falo dos rios que atravessam a esposa de um Verdugo arrebatado, quando ela se traveste e encontra sua liberdade ao vestir a máscara do sanguinário. Falo de América, a protagonista, mulher, colonizada pelas Verdades da Cruz e da Ciência que toma lugar de Deus em A Empresa. O universo potente de mulheres em Hilst busca a liberdade precisamente naquilo que essa ascese promete: ser aquilo que se deseja, traçar seus próprios caminhos doa a quem doer.

É desse modo que falo de feminismo em Hilst. Não como um rótulo que ela mesma rejeita, a partir da conotação negativa que sua geração atribui ao feminismo, mas como uma liberdade que sua obra alcança nos devires de mulher. Como donzelas guerreiras, elas engendram animus e anima, yin e yang, feminino e masculino, numa androginia híbrida que transita no espaço do entre.
Como feminista, procuro ler Hilst com a liberdade criativa de sentir mais do que entender o que seria para Hilst escrever enquanto autora, enquanto mulher. Então me volto para uma questão fundamental, que é até que ponto eu posso falar de uma escrita de mulher. Em Um Teto Todo Seu, Virgínia Woolf inventa uma irmã para Shakespeare (Woolf 1985). Ela a chama de Judith, uma mulher que não tem o mesmo acesso ou a sorte de Shakespeare, e acaba na desgraça, apesar de ter o mesmo talento de seu irmão.
Cito: “Ela teria certamente enlouquecido, se matado com um tiro, ou terminado seus dias em algum chalé isolado, fora da cidade, meio bruxa, meio feiticeira, temida e ridicularizada”. (Idem) Ela teria que superar muitas barreiras sociais para desenvolver sua poética. Como ela poderia chegar em Londres, e ganhar espaço num teatro como dramaturga sem antes ser posta em descrédito? Na melhor das hipóteses, seu trabalho cairia no anonimato.
George Eliot e George Sand são escritoras do século 19 que assinaram com pseudônimo de homem. Mulheres são desestimuladas a escrever, a criar, e precisam do mínimo de independência financeira para encontrar um espaço, as condições e os meios necessários à produção artística.
Woolf defende que a mulher não pode se restringir a escrever sobre si mesma enquanto mulher, mas elencar os mais variados temas, sonhar, explorar o mundo, seu ponto de vista. Cito: “Quando lhes peço que ganhem dinheiro e tenham seu próprio quarto, estou-lhes pedindo que vivam em presença da realidade, uma vida animadora, ao que parece, quer se consiga partilhá-la ou não.” (Idem)
Quando falamos da mulher no processo criativo, entendo que haja certo deslocamento de perspectiva; olhares a partir de finas angulares cujo prisma perpassa por diferentes maneiras de se apreender o mundo. A filósofa Wanda Tommasi (Tommasi XX) vê em Nietzsche uma valorização da diferença da mulher. Inspirada na filosofia daquele homem bigodudo, ela constata que “é na diversidade, na alteridade, na distância que se identifica o valor da mulher. Mas ela perde todo o interesse no momento em que se aproxima, quando se torna semelhante ao homem.” (Idem)
Aqui não nos cabe pensar em identidades de gêneros, mas em papéis sociais concebidos pelo Patriarcado. Nietzsche compara a mulher à vida, pelos seus atributos cambiantes, por suas transmutações, pelos seus devires, por tudo aquilo que escapa à rigidez dos conceitos, tudo o que não pode ser catalogado, nem absorvido pela imediatez, como o rastejar de uma serpente. Como uma bacante num rito dionisíaco, a mulher simboliza um estado de transe, elevada à mais alta potência dessa natureza selvagem “feminina”. Ou seria "masculina"?
É assim como eu entendo a mulher em Hilst: como uma força incomensurável que atravessa devires de mulher, mas que engendra em seu cerne também o masculino, os jorros vorazes do caderno rosa de Lory Lamby, mas também os noturnos girassóis e suas ramas secretas, de universos que se encontram num só coração.
* Marina Costin Fuser, socióloga, concluiu o doutorado em Cinema e Estudos de Gênero na Universidade de Sussex (Inglaterra). É autora do recém-lançado Palavras que Dançam à Beira de um Abismo – Mulher na Dramaturgia de Hilda Hilst.
NOTAS
– HILST, Hilda (2008) – Teatro Completo. São Paulo: Globo
– TOMMASI, Wanda (2002) – Filósofos y Mujeres – La diferencia sexual en la Historia de la Filosofía. Madrid, Narcea S.A. Ediciones.
– WOOLF, Virginia. (1985) – Um Teto Todo Seu. Rio de Janeiro: Nova Fronteira