Um ano para nós desatar
.
Publicado 29/12/2020 17:45
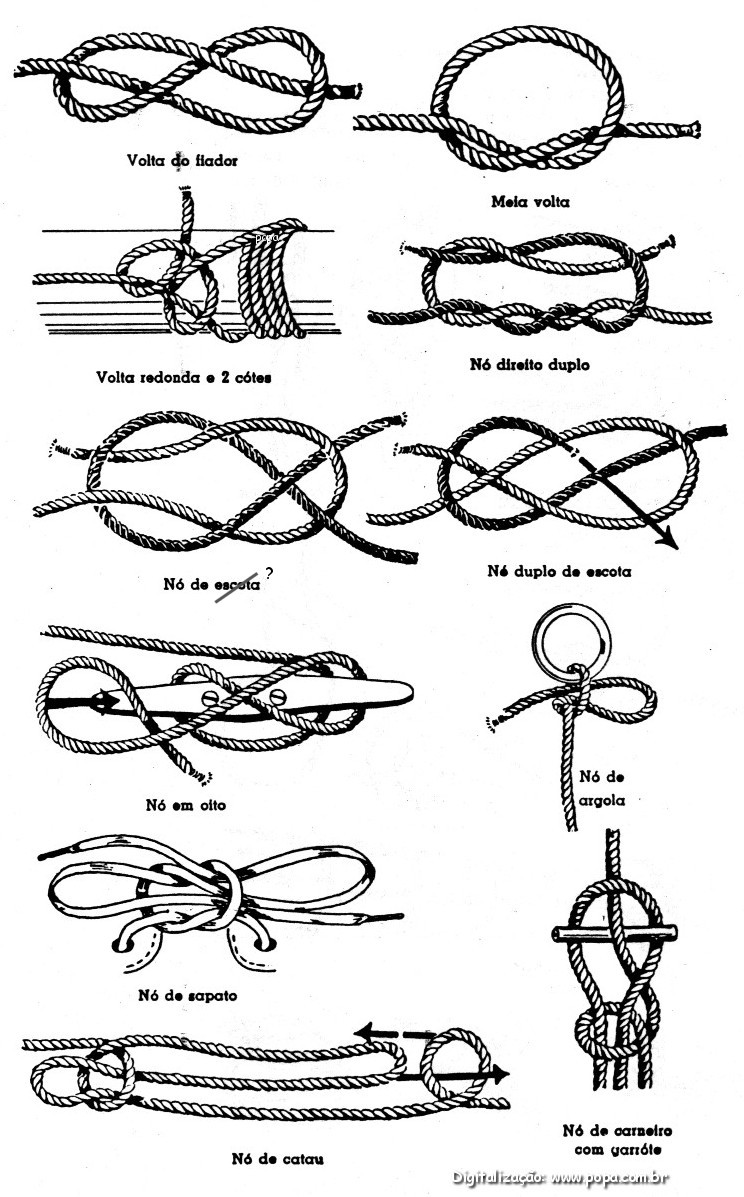
Em 1965, o pediatra e psicanalista inglês Donald Winnicott escreveu que “Ninguém pode segurar um bebê a menos que seja capaz de se identificar com ele”.
Normalmente sou bastante avesso a afirmações categóricas, mas acontecimentos deste dificílimo 2020 me fizeram abrir uma exceção para essa. A definição de Roudinesco e Plon para “identificação” também ajudou, ainda mais quando a li substituindo “sujeito” por “bebê” ou “criança” e “seres humanos” por “cuidadores/as” ou “pai” e “mãe”.
“Identificação é um processo central pelo qual o sujeito se constitui e se transforma, assimilando ou se apropriando, em momentos-chave de sua evolução, dos aspectos, atributos ou traços dos seres humanos que o cercam”.
Me parece que a asserção de Winnicott nos clama a segurar os bebês (e as crianças que logo se tornarão) de uma forma tal que consigamos perceber e acolher as suas necessidades, dificuldades, sonhos, dores, desejos, alegrias, sexualidade, medos, agressividade, curiosidade… enfim, toda a intrincada tapeçaria que nos torna humanos.
Mas não pára por ai.
Para que este delicado e complexo processo seja bem sucedido, nós, os/as cuidadores/as, precisamos não apenas estar presentes, mas principalmente, nos mostrar verdadeiramente para esses bebês e para essas crianças; e é aí que algumas dificuldades começam a se apresentar.
Primeiro, ao mergulharmos neste processo de identificação com nossos filhos e filhas, é comum sermos remetidos – sem roteiro e mapa de entrada e saída –, para a nossa própria infância, o que pode ser muito difícil para algumas pessoas e até insuportável para outras.
Mas o “nó” do titulo deste texto não se refere a algo que se passou durante a minha infância. Apesar das sombras desse período que ainda precisam ser visitadas, felizmente, através dos processos de terapia ou análise que embarquei nos últimos muitos anos e da ajuda de amigas e amigos, hoje posso dizer que o pequeno Danielzinho sente-se acolhido e tranquilo.
Esse “nó”, que em 2020 por vezes pareceu cego, fala da minha relação com Francisco, meu filho mais velho, que com pouco mais de dois anos e meio viu a atenção que recebia de seu pai e de sua mãe ser repentinamente reduzida com a chegada dos gêmeos Luís e Caetano. E as revoluções não pararam por ai, já que exatos dez dias apos o nascimento dos irmãos, chegou o isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19.
Depois de um “até logo” repentino e sem data de volta para a sua professora e para os seus amiguinhos e amiguinhas, lá se foi a necessária rotina proporcionada pela linda escola amarela. A feira livre, com suas pessoas, sons, sabores e cores, programa certeiro desde os seis meses de idade, também sumiu; da mesma que as idas para a praça no fim da tarde para alimentar os peixes e as tartarugas com pão velho. Mas talvez o golpe mais duro tenha sido não poder mais brincar com Maya, vizinha e melhor amiga.
O fato dessa combinação de fatores acontecer justo numa fase tão delicada da primeira infância delineava a formação de uma tempestade perfeita, e assim aconteceu. Francisco não estava bem e demonstrou isso em alto e bom som, numa reação saudável por parte dele mas nada fácil para mim e para a minha parceira.
Com Carol tomada pela tarefa hercúlea que é a amamentação em livre demanda de dois bebês, cabia principalmente a mim “segurar” Francisco, e foi justamente nesse momento, talvez o mais crucial na minha curta trajetória como pai, que eu muitas vezes falhei. Ao invés de ser aconchego, em diversas ocasiões eu fui irritação. Ao invés de ser leveza, muitas vezes escolhi as piores horas para tentar impor limites e dar lições. Ao invés de ser compreensão e presença, eu com frequência fui apatia.
Após cada uma desses situações, eu tinha plena consciência de ter falhado, o que me afundava num sofrimento silencioso, num emaranhado de culpa que aos poucos me paralisava. Se hoje me encontro mais desperto e aberto, isso se deve principalmente a Carol, que me acolheu e me cobrou com todo o afeto que lhe é particular.
Foi ela que me segurou quando eu achava que não merecia tal cuidado, até porque, é desnecessário dizer (na verdade, é extremamente necessário) que o meu ensimesmamento e silêncio trouxeram obstáculos adicionais para um contexto já suficientemente desafiador para ela e para a nossa família.
Mas afinal, como esse nó se formou e como ele começou a afrouxar?
Achei parte das respostas para isso em um texto que escrevi em fevereiro de 2018. Nele, abordei o fato de tantas e tantas mulheres profundamente dedicadas à maternidade (mesmo quando o prazer se mostra escasso) se encontrarem constantemente imersas em sentimentos de insegurança e de culpa. Para ilustrar, compartilhei que de tempos em tempos Carol me perguntava se ela era uma boa mãe.
O que escrevi a seguir tem tudo a ver com a reflexão que tento hoje fazer. Afirmei que nunca interpretei essa pergunta como um sinal de fraqueza; pelo contrário, a enxergava como um sinal inconteste de coragem e de maturidade. O “fraco”, nesse sentido, era eu, que tendo as mesmas dúvidas em relação a como estava me saindo como pai, permanecia calado.
Acredito que quando relacionado ao contexto aqui trazido, esse silêncio, que é meu e de muitos homens, carrega em si um misto de arrogância, fragilidade e alienação bem masculinos, algo estruturado e sustentado pela cultura patriarcal. Afinal, ser uma excelente mãe é algo constituinte (e com frequência sufocante) para o reconhecimento social e pessoal do que é ser uma “boa mulher” em nossa sociedade, não havendo, nem de longe, uma equivalência em relação a nós, homens, e ao nosso papel como pai. Evidentemente, a pressão por ser um bom provedor ainda é algo muito presente, mas estou falando do cuidado em todos os seus aspectos.
Não é minha intenção aqui advogar que também os pais passem a “padecer no paraíso”, se vendo assombrados por uma culpa e por questionamentos inexequíveis e tendo o seu valor e a sua personalidade constantemente postos em cheque. Defendo apenas que sejamos mais atentos às nossas falhas e que possamos as reconhecer e verbalizar com as pessoas que dividem conosco a árdua e bela tarefa de cuidar.
Defendo também que nos permitamos sentir. Mais ainda, que façamos isso na presença das nossas crianças, pois elas precisam ver a expressão de nossas emoções. A tristeza contumaz pesa, claro, e a alegria maquiada confunde mais do que ajuda neste processo de identificação e de amadurecimento das emoções de nossos/as pequenos/as, mas digo, com toda a certeza que não tenho, que é em nossa apatia que reside o maior perigo.
A sensação de não estar sendo a melhor versão de pai e de parceiro que você sabe que pode ser pode nos enredar numa trama insalubre. Por outro lado, quando optamos por sentir o que precisa ser sentido, e compartilhar isso com quem precisa ser compartilhado, o mesmo fio que dá o nó pode ser utilizado para continuar a tessitura das mais lindas histórias.
Felizmente, como escreveu Wislawa Szymborska, o momento para isso está sempre ao nosso alcance.
“Qualquer começo é só prosseguimento
e o livro dos eventos está sempre aberto
ao meio.”
Que 2021 seja então um ano de sentir-com!
Com todo o meu amor e gratidão para a minha morada da alegria, Carol, Francisco, Caetano e Luís.
